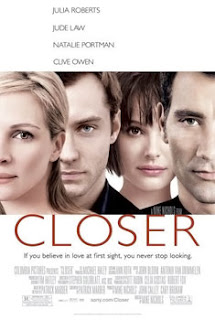Closer congregou um texto engenhoso, um elenco adequado e um
timoneiro experiente, três atributos primordiais para o sucesso de um filme
numa perspetiva clássica, herdada do teatro. O realizador Mike Nichols levava
já anos de análise dos meandros das relações humanas, tendo inaugurado a
carreira em 1966 com a herculeana tarefa de dirigir Elizabeth Taylor e Richard
Burton, o casal mais volátil da história de Hollywood, na transposição da peça
Who’s Afraid Of Virginia Woolf?, sobre um matrimónio entorpecido pelo consumo
constante de álcool. Clive Owen, como um dermatologista manipulativo, Julia
Roberts, como uma fotógrafa deprimida, Jude Law, como um escritor cobarde, e
Natalie Portman, como uma stripper à deriva, constroem os papéis com um
discernimento profundo do seu alcance. E o argumento fez esses estereótipos
colidir de forma a expor as suas vulnerabilidades, que estão cobertas por
diálogos cheios de falsidade e arrogância.
A genialidade de Closer reside na sua momentaneidade. Ao
focar-se apenas nos pontos de viragem nas uniões e desuniões, encontros e
desencontros dessas quatro pessoas, abrem-se valas de interrogações nos
períodos intermédios. Vemo-los a confrontarem-se, revelarem-se, agredirem-se e
abandonarem-se uns aos outros vezes sem conta, mas e os anos pelo meio durante
os quais enganaram os parceiros dia após dia? Quando estavam juntos, faziam os
seus programinhas ou iam para a cama, quantas mentiras contaram? Quando não
estavam juntos, quantas vezes foram infiéis premeditadamente e depois voltaram
para casa e perpetuaram a sua falta de honestidade? Essa intimidade amorfa é
considerada pornográfica, não a vemos, ficamos apenas com as roturas, cujas
conclusões revelam sempre o valor real das relações, mesmo quando as palavras não
condizem com os acontecimentos. Por causa desses vazios, cada cena ganha uma
força própria. Menos é mais.
Os filtros na linguagem vão desaparecendo. Os insultos e as
avaliações de caráter tornam-se brutais, frequentes e reveladores. À medida que
a convivência se vai prolongando, mais fácil fica adivinhar o que fere o outro
lado numa discussão. Apenas quando Dan (Law) conhece Alice (Portman) há
vestígios de inocência e de desprendimento, e até aí diria que são unilaterais,
pois no fim percebemos que a jovem americana perpetuou a maior farsa da
história, ao assumir outra identidade durante a sua passagem pelo Reino Unido.
Cada espetador terá a sua interpretação sobre quem é a maior vítima das
circunstâncias; eu acredito que seja Dan, porque se deixa levar por
ingenuidades quando tem de tomar decisões e perde ambas as mulheres, uma para
outro homem, a outra… nunca chegou a tê-la. Quanto ao elo mais nocivo, nem me
aventuro a argumentar. É irónico que um filme sobre disfuncionalidades consiga
ser tão esclarecedor. “Have
you ever seen a human heart? It looks like a fist wrapped in blood.”
9/10